Resumo: Originado de uma pesquisa multidisciplinar realizada entre 2006 e 2008 em Uberaba, MG, o artigo parte do entendimento social das noções de menoridade e de violência urbana para discutir as relações que se estabelecem triangularmente entre a efetiva participação de adolescentes na produção da criminalidade, a atuação de mídias populares que noticiam referida participação, e a decorrente formação de um imaginário social sobre o fenômeno da delinquência juvenil. Nas considerações introdutórias delimita-se o objeto e o corpus teórico-metodológico. No item dois é realizada uma breve contextualização sócio-histórica da menoridade enquanto questão jurídico-política no Brasil, para, no item três, serem apresentados e problematizados os dados coletados em campo. De inconsistências encontradas no cruzamento de referidos dados, as considerações finais apontam para a discussão das redes informativas como forma de enfrentamento a uma questão social identificada no locus investigado: a valorização cultural da negação da alteridade.
Palavras-Chave: menoridade – violência urbana – imaginário social – mídias – alteridade
Sumário: 1. Considerações introdutórias; 2. A menoridade em perspectiva sócio-histórica; 3. A violência urbana como categoria analítica; 4. E fatos e/ou de ficção: nós, entre manchetes e B.O.’s.; 5. Considerações finais; Referências.
1- Considerações Introdutórias
Nas últimas décadas as Ciências Sociais brasileiras vêm contribuindo para uma abordagem científica da criminalidade não mais restrita ao saber jurídico e à análise da legislação penal. Trata-se de estudos em que se procura desvelar as conexões possíveis entre o agravamento da violência criminal, os padrões de desenvolvimento sócio-econômico, as flutuações culturais, os imaginários locais, a forma de exercício de poder do Estado e as ressonâncias de um regime autoritário ainda perceptíveis em políticas de segurança e em diversos momentos da elaboração e da aplicação dos dispositivos legais.
Neste contexto de produção acadêmica, tendencialmente interdisciplinar, o fenômeno chamado de violência urbana tem se tornado um dos grandes temas em discussão, considerando-se que, nele, encontram-se inúmeros elementos representativos da complexidade e das contradições do momento vivido.
Tendo como conceitos centrais as noções de menoridade e de violência urbana, esta última concebida a partir das produções do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NECVU-UFRJ), o presente artigo propõe uma contribuição à discussão das relações que se estabelecem entre a efetiva participação de adolescentes na produção da criminalidade observada na cidade de Uberaba, MG, a atuação de mídias populares que sobrevivem também do que é noticiado, e a decorrente formação de um imaginário social local acerca do amplo fenômeno da delinqüência juvenil.
As reflexões aqui produzidas expressam pequena parte dos resultados de uma pesquisa acadêmica desenvolvida ao longo de três anos com o apoio do PIBIC – Programa de Iniciação Científica da Universidade de Uberaba. O ponto de partida da investigação foi a constatação da ênfase midiática em vincular atos infracionais – ocorridos, supostos ou tentados – a uma situação, nominada pela imprensa, como “escalada da violência”. Situação esta, que adquiriu maior visibilidade ao final da década de 90, quando relatórios do Núcleo de Estudos em Segurança Pública da Fundação João Pinheiro revelaram que Uberaba constava entre as cidades mineiras com maior ascensão dos indicadores de criminalidade.
Partindo do entendimento de que referido fenômeno guardaria relações diretas com a aceleração da desigualdade sócio-econômica no mesmo período, as hipóteses de pesquisa incluíam ainda dois aspectos bem menos objetivos da realidade social: o desmantelamento dos mecanismos e das redes tradicionais de socialização juvenil e de sociabilidade local (antes ancoradas em relações de patronagem e, mais recentemente, em novas modalidades de clientelismo político), e a necessidade de afirmação e de comunicação de um ethos juvenil viril elaborado a partir de uma cultura originariamente agrária e tendencialmente conservadora.
Cumpre relembrar que o desmantelamento das redes tradicionais de sociabilidade, tema exaustivamente estudado nas últimas duas décadas, se faz acompanhar de um distanciamento nas relações entre pais e filhos, instituinte da redefinição destes papéis sociais e, por conseguinte, fonte propulsora de mudanças nas funções de agências socializadoras tais como a escola, os centros de assistência social e mesmo determinadas instituições do Estado – cada vez mais investidos de atribuições antes familiares.
Estudos já tornados clássicos, como os de Zaluar (1985, 1993), Adorno (1991, 1993), Misse (1995, 2006, 2008), ajudam a compreender como, em referida transição social (em que novas agências de socialização ainda não se configuraram, enquanto as anteriores seguem em acelerado processo de desmantelamento), é que a criminalidade melhor consegue a adesão de crianças e de adolescentes vulnerabilizados afetiva e socialmente.
Assim, na organização de nossas variáveis, não excluímos os vínculos da criminalidade juvenil com a falta de alternativas frente ao estreitamento das oportunidades. Apenas alargamos o foco de nossas análises de modo a não desconsiderar a possibilidade de estarmos diante da manifestação de esforços coletivos pela afirmação de uma identidade juvenil que se associa ao destemor e à negação da ordem instituída, e que adquire mais visibilidade social (ou seja, “comunica-se” com uma sociedade excludente) quanto mais seus cultores aderem a práticas transgressoras e adotam um padrão comportamental opositor-desafiador.
Se assim fosse, seria grande a probabilidade de, uma vez em campo, não encontrarmos muitos indícios da instituição de regras intragrupais de cooperação solidária, como, por exemplo, as que se constituíam em torno do narcotráfico até o início da década de 80 (conforme demonstra Zaluar, 1985; 1993), ou as que favoreceram a sobrevivência material e afetiva de grupos de crianças de/na rua estudadas durante a década de 90 (Márques, 1993, 1997; Leczneiski, 1995; Milito e Silva, 1995).
Encontraríamos, provavelmente, a supervalorização da competição e do individualismo: elementos que podem ser bem traduzidos na valorização desmedida de bens de consumo e na disposição para o ato violento, ambas estratégias oportunas à demarcação de hierarquias em ethos juvenis contemporâneos urbanos.
Delimitado o objeto e discutidas as hipóteses da pesquisa, convém esclarecer, ainda neste intróito, que, ao tocar a questão da construção social e midiática do delinqüente juvenil, a perspectiva adotada não é a da negação do já constatado envolvimento de adolescentes com a criminalidade nas sociedades urbano-industriais, e tão pouco a de uma supervalorização das tramas pessoais que levariam determinados sujeitos a referidos comportamentos. O fenômeno em discussão é aqui percebido sócio-culturalmente, e seu tratamento científico é realizado a partir da teorização produzida por uma Antropologia que se volta ao estudo do jurídico (Geertz, 1978; Zaluar, 1985; Márques, 1997) em diálogo com vertentes da Psicologia (Goffman, 1982; Freire Costa, 1994, 2007; Góis, 2004) e da Sociologia da violência (Oliven, 1983; Adorno, 1991, 1993; Misse, 1995, 2006, 2008; Dowdney, 2003).
Tendo como categorias analíticas centrais as noções de diversidade e alteridade, a Antropologia que se volta ao estudo do Direito encontra seu espaço como ciência dedicada à mediação e ao estudo dos processos de judicização elaborados nos/por agrupamentos humanos. Para tanto, seu material analítico abarca a discursividade de sujeitos individuais ou coletivos, esteja esta discursividade latente ou manifesta, de onde resulta nosso interesse por depoimentos, boletins de ocorrências, manchetes de jornais, textos de lei, fragmentos discursivos e mesmo discursos corporais ou consolidados na produção cultural material.
As relações entre referida práxis antropológica e a Psicologia comunitária, área da Psicologia social que estuda “o modo de vida da comunidade e como este se reflete e muda na mente de seus moradores” (GÓIS, 2004: 157), são intensas.
No entendimento de Geertz (1978: 36-37), não obstante as óbvias diferenças quanto à finalidade, o que mais chama a atenção é uma determinada similitude metodológica: o fato de que a teoria será utilizada, nos dois casos, para “investigar a importância não aparente das coisas”, sejam elas tratadas como “sintomas”, sejam elas entendidas como “conjuntos de atos simbólicos”.
Cabe ressaltar, então, que a multidisciplinaridade e o esforço de interdisciplinaridade – este último em respeito à condição multidimensional do fenômeno que se tem a pretensão de estudar – não se relacionam com a prática, já recorrente, de “amoldar” discursos teóricos vários a um saber central “eleito” como legítimo. A adoção do enfoque antropológico como eixo estruturador não sugere ou propõe a promoção de uma redução do psíquico ao cultural, do jurídico ao político, ou do diacrônico ao sincrônico, mas sim a percepção de que, é no tecido cultural, que todos estes fios encontram-se, formando as tramas constituintes dos sujeitos e do fenômeno em questão.
2. A MENORIDADE EM PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA
O estudo do cruzamento entre as categorias juventude e criminalidade exige a compreensão de como ocorre, no Brasil, a elaboração das mentalidades acerca de segmentos considerados como potencialmente desestabilizadores da ordem. Para tanto, tomamos como ponto de partida a constatação de pesquisadores como Bazílio (1985), Faleiros (1987), Adorno (1991, 1993) e Silva (1996), de que, na segunda metade do século XX – muito depois de ocorrida a “descoberta da infância ideal” (Ariès, 1981) e de inventada a noção jurídica de menoridade – a sociedade brasileira passou a atribuir novos significados (e a criar novos usos) para o termo menor: o que antes era a simples identificação técnica e discursiva do indivíduo com idade inferior a dezoito anos, passou a figurar no imaginário popular brasileiro como uma marca indicativa de periculosidade e/ou de incapacidade futura, tornado-se um pesado estigma social.
Ainda que o processo de apropriação popular e de ressemantização do termo legal tenha se dado, aparentemente, fora da arena jurídica, o caminho investigativo trilhado pelos autores supracitados nos leva a encontrar as raízes de referido processo exatamente na história de nossa organização jurídico-política e de nossa produção legislativa.
Em 1921, a Lei n° 4.242 prenunciava o tratamento da menoridade por uma ótica reformista, anunciando a organização dos serviços de assistência e proteção à infância abandonada e delinqüente e tornando-se, assim, uma das fontes de inspiração para a elaboração do Código de Menores de 1927.
Caracterizado pela ênfase dada à internação e pela arbitrariedade conferida aos Juizes de menores, o Código de 1927 apresentava a questão da menoridade como problemática pertinente aos “abandonados” e “delinquentes” com menos de 18 anos de idade, refletindo uma lógica social-darwinista que na época estava em ascensão no meio acadêmico brasileiro.
Mesmo com a revogação do Código, ocorrida em 1979, a disseminação social da tese da “associação natural” entre abandono, pobreza e delinqüência não encontrou grandes obstáculos legais. Ao contrário. Como explica Silva (1996, 2005), nestes Códigos de menores, que “estabeleceram as regras do desvio social a partir das quais se justificava a intervenção do Estado na família brasileira e especialmente na família pobre”, dá-se continuidade à lógica que havia sido iniciada ainda em 1832, no Código do Império, e que surge fortalecida no Código Penal de 1940, sendo ambas normas que enunciam “um protótipo do possível violador de direitos: o sujeito não-branco, não-cristão, não-proprietário e não-letrado”. (SILVA, 2005: 290).
Quando infringiam a lei, os menores ficavam sujeitos a medidas prescritas por “legislação especial”. Estas medidas, baseadas na análise da pessoa (o que pressupunha avaliação psicológica e escala sócio-econômica), do ato (que poderia ser caracterizado como “tipicamente antissocial” ou “atipicamente antissocial”) e da própria legislação, dependiam muito do entendimento do juiz, podendo variar enormemente – deste a devolução à família até a privação de liberdade representada pela institucionalização na FUNABEM ou, na falta de vagas, em prisões, nas quais os menores ficavam apartados da população carcerária adulta.
Tudo isso contribui para que, mesmo superadas as doutrinas do Direito do Menor e da Situação Irregular, ainda hoje, em tempos de Proteção Integral, o termo menor não seja associado à criança e ao adolescente “ideais”, ficando restrito a um tipo bem específico de pessoa não-adulta: aquela que, de uma forma ou de outra, representa ameaça à ordem.
Entre as décadas de 60 e 70, no mesmo contexto em que os obscuros acordos MEC-USAID[1] vieram a nortear uma grande reforma do sistema educacional brasileiro, a necessidade de divulgar as vantagens e a eficácia da administração militar favoreceu a transformação da menoridade em assunto de competência do poder Executivo, reforçando ainda mais a idéia de que crianças e adolescentes usuários da assistência social (ou seja, desfavorecidos economicamente) são “problemas” para um país. (Márques, 1993).
Criada em 1964, em substituição ao Serviço de Assistência a Menores, a FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, estava vinculada à Escola Superior de Guerra, o que transparece no tratamento proposto a todos os “menores marginalizados”: o internato, oportuno tanto por reafirmar a imagem positivista de “faxina social”, quanto por recuperar a antiga crença de que a marginalidade consistiria em uma “degeneração”, em um desvio “herdado” do meio familiar e comunitário. (Bazílio, 1985; Márques, 1997).
Fachinetto (2004) reforça nosso entendimento de que, dentro dos meios oficiais do Bem-Estar do Menor, já estava presente a estigmatização, a visão negativa da família e do sujeito assistidos. Em sua pesquisa acadêmica, o Promotor Público nos demonstra que isso se dava no intento de melhor legitimar a manutenção do internato como estratégia única para a resolução de questões tão diversas entre si. E assim, a prática de recolher e enviar para locais distantes de seu ambiente social até mesmo crianças que não haviam cometido ato infracional, passava a sustentar-se no entendimento de que as famílias pobres seriam, até que se provasse o contrário, a principal fonte de proliferação de “patologias sociais” como delinquência e a promiscuidade.
Ao mesmo tempo em que se aperfeiçoava a prática de estratificar e classificar as populações necessitadas da assistência do Estado, o corpo técnico das instituições jurídico-assistenciais retomava o costume, iniciado ainda nos anos 20, de fazer uso de conceitos e teorias originários na Psiquiatria ou em vertentes mais positivistas da Psicologia. Da popularização desta utilização ligeira e descontextualizada dos “saberes Psi”, agora transformados em instrumento político ou ferramenta para a mera rotulagem, resultou um psicologismo ainda hoje muito difícil de ser debelado tanto no meio jurídico quanto no seu entorno.
Como explica Adorno (1993), em contraposição às noções de infância e de adolescência, o imaginário social brasileiro mantem associada à categoria menor a expectativa de uma manifestação infratora e violenta. Leitura esta, que encontra respaldo tanto em um amplo quadro de desigualdades sócio-econômicas quanto na negação e na patologização das diferenças.
3. a VIOLÊNCIA URBANA COMO CATEGORIA ANALÍTICA
Os autores até aqui trabalhados nos ajudam a compreender a seriedade do quadro constituído. Quando o filtro da categoria menor passa a ser aplicado por agências socialmente legitimadas a apenas “um tipo” de criança e de adolescente, no imaginário social são consolidados os traços mais recorrentes de um estereótipo que “justifique” ou “explique” simbolicamente a não extensão do termo – e do “olhar social” – a todo e qualquer sujeito com menos de 18 anos. No caso, este estereótipo envolve o temor da criminalidade.
“Uma vez descoberta a “infância ideal”, suas especificidades e demandas materiais, higiênicas, morais e afetivas, a mentalidade dominante acirrou a demarcação de diferenças existentes entre esta e as outras infâncias. Isso porque, ainda que o anúncio da valorização da criança combinasse muito bem com a discursividade liberal-burguesa, a possibilidade de extensão de um “sentimento de infância” a toda e qualquer família em nada poderia combinar com as práticas do capitalismo industrial, faminto de braços e de suor barato. […] Em uma sociedade onde a criança pobre deveria ser “educada” para e pelo trabalho alienado, a mentalidade que autorizaria nossa indignação frente à infância violentada em sua dignidade, não poderia estender-se até aqueles a quem cabia alimentar as máquinas com sua força de trabalho […] Afinal, o funcionamento do sistema precisava ter garantida a reprodução de uma infância de “segunda categoria”, para a qual o treinamento e o ingresso nas responsabilidades e agruras do mundo adulto e do trabalho fosse valorizado como uma espécie de redenção das garras da miséria e sobretudo da criminalidade”. (MÁRQUES, 1997:52-53).
A invenção da adolescência pela Psicopedagogia do início do século XX e sua descoberta como problema social na mesma época, já prenunciavam a associação entre condição juvenil e delinqüência, esta última entendida como radicalização da ruptura com a ordem instituída pelas gerações anteriores. Como explica CÉSAR (1998:19),
“No discurso das práticas institucionais, a adolescência foi “descoberta” como um “problema” relacionado à educação, que visava a produção de um sujeito higiênico e disciplinado. Desta forma, simultaneamente à invenção da adolescência pelo discurso psicopedagógico, inventaram-se também as figuras que sinalizavam a falta da aplicação dos dispositivos educacionais: a “delinquência juvenil” e a “sexualidade adolescente”, imagens dos perigos que, segundo os especialistas, rondavam a adolescência, tornando-a perigosa”
Nos últimos anos, o problema da delinquência juvenil vem sendo diretamente associado, sobretudo pela imprensa escrita e falada, à produção da chamada violência urbana, o que não será diferente no caso estudado. Cabe, portanto, verificar antes o que se entende por violência urbana e se este é o fenômeno encontrado na cidade de Uberaba.
Considerada genericamente como sendo a manifestação social de comportamentos transgressores e agressivos no e em função do convívio urbano, esta modalidade da violência poderia ser observada em qualquer localidade caracterizada como “meio urbano”.
Entretanto, a tão popularizada expressão violência urbana, não surge de modo aleatório. Trata-se de uma elaboração teórica, o que sempre pressupõe direcionamento epistemológico. Como categoria analítica, o termo contém a intenção de dar um tratamento “mais sociológico e menos criminológico” a uma “multiplicidade de eventos (que nem sempre apontam para o significado mais forte da expressão violência) que aparecem vinculados ao modo de vida das grandes metrópoles” nos tempos atuais (MISSE, 2006: 11). Ou seja, o conceito remete a eventos cuja produção e reprodução não se desvincula da complexidade de situações e principalmente de estilos de vida e de modos de ver o mundo que caracterizam a convivência numa grande metrópole – o que não é o caso da cidade em questão.
Oliven (1983) está entre os autores para quem, no Brasil, a violência urbana começou a ser elevada à condição de questão nacional antes de realmente atingir os níveis preocupantes que hoje mobilizam opinião pública e autoridades. Explica ele que, tanto a popularização do termo quanto sua generalização tiveram início no momento em que o modelo econômico adotado na ditadura militar entrou em incontornável crise, o que se deu ao mesmo tempo em que o recrudescimento da inflação e do desemprego causou a proletarização das classes médias – e que a eliminação da ameaça advinda das guerrilhas urbanas e rurais esvaziou o discurso que sustentava a Ideologia da Segurança Nacional.
Iniciado o processo de abertura política, o tema da violência nas cidades foi “promovido” à condição de principal problema nacional, resultando, desde então, em uma dramatização daquilo que, na ocasião, ainda era a situação real. Dramatização esta,
“[…] através da qual se constrói uma imagem maniqueísta da sociedade: existiriam os “homens de bem” e os “homens de mal”. Cria-se, assim, um novo bode expiatório, o “marginal”, figura que serve para exorcizar os fantasmas de nossa classe média cada dia mais assustada com a inflação, o desemprego, a perda de seu status, a sua crescente proletarização e a queda do poder aquisitivo alçado nos anos do “milagre” (OLIVEN, 1983: 22).
Frustradas com o desencanto do “milagre econômico” e não mais sentindo-se ameaçadas pela expectativa de atos terroristas de extrema-esquerda, as classes médias colocavam-se a questionar a lentidão na descontinuidade do Estado de exceção. É quando o conceito de violência urbana, até então em voga na discussão de situações vividas em metrópoles como Nova Iorque, começou a ser empregado, no Brasil, de forma ideológica e distorcida.
Neste sentido, OLIVEN (1983: 22) argumenta que:
“Trata-se de uma violência que é chamada de “urbana”. O rótulo é importante, pois sugere que existe uma violência que é inerente à cidade, qualquer que esta seja. O problema, portanto, não seria brasileiro, mas mundial e suas causas não seriam sociais, mas ecológicas, já que se imputa ao meio ambiente que é chamado de cidade a capacidade per se de gerar violência.”
Desde então, foram e têm sido diversos os resultados do emprego generalizado da expressão. Queremos ressaltar aqui, com base na realidade social em questão, apenas dois deles: a contribuição para a formação de mentalidades estruturadas na negação da alteridade, e o decorrente reforço de uma prática informativa que alimenta ou mesmo justifica referido imaginário.
4- De fatos e/ou de ficção: Nós, entre Manchetes e B.O.’s.
Segundo Castoriadis (1982), a constituição de uma interface de contato entre o espaço privado e o espaço público leva a um processo de apropriação do social por parte das psiquês individuais. Tal como uma “rede de sentidos”, o que se tem deste processo é a formação do Imaginário social. Instância cuja atuação consiste em
“[…] ligar símbolos (significantes) a significados (representações, ordens, injunções, ou incitações para fazer ou não fazer, conseqüências ou significações no sentido amplo do termo) e fazê-los valer como tais, ou seja tornar esta ligação mais ou menos forçosa para a sociedade ou o grupo considerado” (CASTORIADIS, 1982: 414).
Com o objetivo de desvelar a produção e a atuação do imaginário social local acerca do fenômeno em estudo, uma das estratégias adotadas foi o levantamento e a análise de textos informativos produzidos e veiculados pela imprensa.
Realizada ao longo de 2007, esta etapa dos trabalhos envolveu o acervo de dois jornais. Inicialmente elaboramos uma planilha elencando categorias de análise: data da manchete; data do ocorrido; infração noticiada; idade/ faixa etária dos envolvidos; localidade da ocorrência; ocupação dos envolvidos; grau de escolaridade dos envolvidos; local/bairro de procedência do(s) acusado(s); adjetivos atribuídos aos sujeitos e mesmo às ações/omissões das instituições do Estado. Depois decidimos incluir, na mesma planilha, um espaço para o registro de observações que poderiam nortear possíveis desdobramentos da pesquisa, como: características do discurso; menções indicativas de identidade cultural, perfil sócio-econômico ou etnicidade; e presença de imagem fotográfica ou outra forma de representação iconográfica (retrato falado, charge etc.).
O período escolhido para a análise foi o triênio de janeiro de 2001 a janeiro de 2004, época em que aumentaram as preocupações, principalmente das classes médias, com a noticiada violência urbana.
Depois de sistematizados, os dados então obtidos foram cruzados com dados provenientes de fontes oficiais, que haviam sido coletados um ano antes como parte das atividades de um dos nossos sub-projetos. Antes mesmo do tratamento analítico, a simples comparação dos dados provenientes de fontes distintas apontou discrepâncias geradoras de oportunas reflexões.
Pesquisando um total de 1043 Boletins de Ocorrência referentes ao período de 01/2000 a 01/2004, Martins (2006) relata ter encontrado 85 registros de roubos supostamente praticados por sujeitos aos quais se atribuía a condição de “menor” ou “aparentando menoridade”. Em contrapartida, nos textos jornalísticos coletados por Aveiro (2007), foram noticiados, no triênio em estudo, 122 casos de roubos em que se informa a condição de menoridade do provável autor, ou seja, 43% a mais do que apontavam os registros policiais.
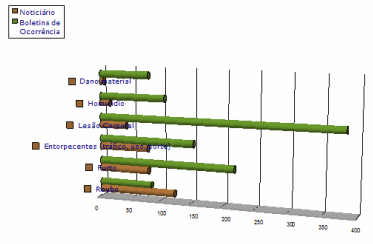
O gráfico demonstra que, ao mesmo tempo em que o noticiário local apresentou um número maior de roubos supostamente praticados por pessoas com menos de 18 anos, o contrário aconteceu em relação ao furto envolvendo pessoas com a mesma característica. Este sim, registrado em larga escala nas ocorrências policiais.
Não se exclui a possibilidade de que a inconsistência dos números esteja relacionada a dificuldades na comunicação com os informantes ou mesmo na coleta dos dados. Entretanto, ainda que considerando a hipótese de um jornalista policial equivocar-se tomando um caso de roubo tentado por roubo cometido, ou noticiando como roubo aquilo que tecnicamente teria sido furto, nos interessa aqui chamar a atenção para consequências dos números veiculados na formação do imaginário social. Afinal, se o furto (bastante cometido e bem menos noticiado) não envolve demonstração de predisposição para a conduta violenta, o mesmo não se pode dizer do roubo, que pressupõe violência ou grave ameaça.
O cruzamento dos dados obtidos por Martins (2006) e por Aveiro (2007) permitiu constatar que os 80 furtos noticiados como tendo o provável envolvimento de menores de idade, representavam menos da metade do número total de furtos hipoteticamente praticados por adolescentes dos quais se tinha dado queixa na cidade. Fato este, que nos leva a ponderar sobre os critérios adotados no momento de se decidir o que deve ou não ser transformado em notícia.
Pesquisadores dos processos midiáticos, Jeudy (1994) e Batista (1994) comungam da idéia de que a imprensa escrita, de um modo geral, seleciona as ocorrências policiais privilegiando aquelas que seus leitores e anunciantes considerariam como adequadas ou oportunas. E isso inclui tanto a questão da adesão ou recusa à estética do sensacionalismo, quanto identificações éticas, culturais e político-ideológicas.
A análise das produções jornalísticas estudadas apontou que, naquela ocasião, frente a duas situações em que uma envolvia um acusado maior de idade e outra indicava como autor um menor de idade, os dois veículos pesquisados tendiam a dar mais visibilidade a esta última, muitas vezes associando-a ao aumento da criminalidade e à falta de segurança na cidade (Aveiro, 2007).
Para Batista (1994), o fenômeno a que chamamos de hiperfoco na insegurança pode ser melhor entendido se tivermos em conta alguns princípios que ainda exercem alguma influência na cobertura policial jornalística. Seriam eles os princípios: “da verdade primacial”, “da progressividade”, “da mais-valia da violência impune”, “da manipulação estatística”, “da ineficiência do Estado”, “da credibilidade imediata do terror” e “do estereótipo criminal”.
A pesquisa realizada não apontou tantos elementos significativos de adesão midiática à estética do sensacionalismo, mas revelou, além do emprego dos princípios “da ineficiência do Estado”, “da credibilidade imediata do terror” e “do estereótipo criminal”, o comprometimento com um imaginário pouco afeito ao reconhecimento da alteridade.
O princípio “da ineficiência do Estado” pode ser aplicado de forma a reforçar ou não o princípio “do estereótipo criminal”, o que depende inclusive da percepção das ações e omissões do Estado que antecedem a necessidade de intervenções pela Segurança Pública. Cumpre ressaltar que este princípio não se caracteriza necessariamente pela responsabilização do Estado, mas antes pela isenção da sociedade civil em sua parcela de responsabilidade. Dito de outro modo, teríamos uma crônica policial pouco afeita a converter a violência noticiada em motivo para a discussão da própria organização social, mas muito hábil em torná-la objeto para o questionamento das instituições do Estado.
Os textos jornalísticos estudados apontaram a aproximação do princípio da ineficiência do Estado com o reforço dos estereótipos criminais e da credibilidade imediata do terror, no qual “[…] o espaço conferido a um depoimento qualquer é diretamente proporcional à mensagem de aterrorização que ele contenha. A credibilidade da fonte é assim desconsiderada em favor de uma credibilidade imediata em seu próprio terror” (BATISTA, 1994: 104).
Se, considerações de vítimas ou da população em geral a exigir mais policiamento, foram, não raro, veiculadas junto às “respostas” de responsáveis pela Segurança Pública (citados direta ou indiretamente na reportagem), contraponto similar nem sempre foi encontrado quando o clamor era pela redução da maioridade penal, pela revisão das medidas socioeducativas previstas na lei 8069/90, ou simplesmente associava o aumento da criminalidade à condição juvenil. Em casos assim, excetuando manifestações do Ministério Público, não verificamos nos textos jornalísticos a mesma preocupação em apresentar outras vozes que pudessem destacar outros aspectos constitutivos da questão, postura esta favorecedora da reprodução de estigmas sociais.
Segundo Goffmam (1982), a estigmatização, que é sempre socialmente construída, pode ser compreendida como um processo de produção de identidades, pessoais ou coletivas, às quais caberá, mediante consenso, um tratamento diferenciado. Explica o autor que, frente ao sujeito (individual ou coletivo) a quem a maioria consente em identificar como estigmatizado, os demais, tomados como “sujeitos ideais” e auto-identificados como “normais”, passam a produzir um conjunto de estratégias necessárias à manutenção destes status quo estabelecidos.
“As atitudes que nós, normais, temos com uma pessoa com um estigma, e os atos que empreendemos em relação a ela são bem conhecidos na medida em que são as respostas que a ação social benevolente tenta suavizar e melhorar. Por definição, acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida: construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe social. Utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado, em nosso discurso diário como fonte de metáfora e representação, de maneira característica, sem pensar no seu significado original. Tendemos a inferir uma série de imperfeições a partir da “imperfeição” original” (GOFFMAN, 1982: 15).
Assim, se um protagonista de um episódio de violência integra alguma minoria, objeto de preconceito aberto ou velado (por exemplo, egressos da prisão, drogadictos, homossexuais, migrantes de regiões com baixo desenvolvimento econômico, pobres etc.), tal condição será sempre mencionada e freqüentemente enfatizada – ainda que não se possa relacioná-la, objetivamente, à produção do episódio em questão.
Silva (2001) decodifica a situação deflagrada. Apoiando-se em Goffman, o autor pondera que, frente à ocorrência de um estigma, criamos um paradoxo:
“Ao mesmo tempo que estigmatizamos, exigimos do estigmatizado que se comporte de tal maneira que demonstre que o atributo que gera o estigma não significa uma carga pesada que ele carrega, nem que é diferente de nós. Por outro lado, impomos um distanciamento que assegure que isto é verdadeiro. “Em outras palavras, ele é aconselhado a corresponder naturalmente, aceitando com naturalidade si mesmo e aos outros, uma aceitação de si mesmo que nós fomos os primeiros a lhe dar. Assim, permite-se que uma aceitação-fantasma forneça a base para uma normalidade-fantasma.” (Goffman, 1978: 133). Em suma, por mais que eu, como indivíduo normal ou informado, recuse a ver no outro um ser cuja humanidade se diferencie por algum atributo qualquer, isto não anula o estigma”. (SILVA, 2001).
Neste sentido, Baratta (1994) nos mostra com competência o quanto a imagem veiculada da criminalidade e do criminoso pode ser mais relevante que a própria criminalidade em si, ou seja, como nos apegamos facilmente a uma visão parcial e reduzida dos delitos e de seus agentes.
Para o autor, a “imagem social” imediata da criminalidade é a mesma a que se tem mais acesso nos jornais populares, a dos delitos que, quando praticados por sujeitos das classes mais abastadas, ficam melhor encobertos, razão pela qual são geralmente associados às classes baixas, como furto, roubo, lesão corporal, latrocínio, violência sexual, vandalismo, maus tratos etc. Uma visão que se revela um tanto desfocada, já que nem sempre incorpora delitos potencialmente mais lesivos à coletividade, como malversação de verbas públicas, atentados contra a segurança e a organização do trabalho, crimes contra a saúde pública, publicidade fraudulenta, crimes ecológicos, criminalidade organizada.
Isto posto, o criminólogo atenta que uma significativa parte da opinião pública e daqueles que contribuem mais diretamente para formá-la, sustenta suas “certezas” em estereótipos, em estigmas sociais. Em tais circunstâncias, o medo do crime deriva cada vez mais da reprodução de imagens e cada vez menos da informação de fatos. O que equivale a dizer que a criminalidade da qual tanto se teme precisa ser reconhecida, também, como um fenômeno construído na confluência entre fatos e maneiras de ver o mundo.
Confirmando as teses de Baratta (1994) e Oliven (1983), o levantamento do acervo dos jornais locais demonstrou, no período em questão, indícios de uma tendência que não é iniciada e nem se esgota na cultura local, relacionada ao emprego de uma linguagem favorecedora da identificação do leitor com a vítima. Além disso, dentre os relatos jornalísticos de situações envolvendo adolescentes como autores de atos infracionais, também chamaram a atenção de Aveiro (2007) a presença de algumas redações marcadas pelo sarcasmo.
A ridicularização do autor da ação e/ou da ocasião de sua produção reforçam as análises de Jeudy (1994) e de Freire Costa (1994) acerca do caráter de entretenimento que ainda se agrega à função original de informar, ora dando um tom de espetáculo, ora de “mexerico”, àquilo que deveria ser tratado com a seriedade de questão social.
Pelo olhar da Psicanálise, para transformar em entretenimento coletivo a narrativa de situações dramáticas que envolvem não o próprio narrador, mas terceiros, o sujeito produtor do discurso precisa apresentar determinadas condições, pessoais e sociais, que, por vezes, acabarão sendo reproduzidas entre seus interlocutores. Em termos antropológicos, diríamos que uma destas condições é a recusa da alteridade, a incapacidade etnocêntrica de tratar com empatia aquele que é “flagrado” como portador dos signos da diferença.
A noção de alteridade, constituinte da Antropologia e cada vez mais presente na Psicologia e na Psicanálise, traz em si o sentido de diversidade. O processo que chamamos de reconhecimento da alteridade compreende, então, a capacidade do sujeito reconhecer-se e reconhecer o Outro como identidades constituídas por atributos distintos. Deste reconhecimento, finalmente “pacificado” às custas de muito investimento emocional e cultural, é que viria a compreensão de que somos iguais em nossa condição humana. (Márques, 1993; 1997).
A este respeito, Kehl (2007) pondera que, se nosso Eu originariamente já não suporta o diferente, tende a suportar menos ainda aquele que possa ser considerado como “discretamente” diferente e que por isso surpreende (e incomoda) muito mais quando manifesta a quê veio. Como frisa a psicanalista, sem a intervenção da cultura, a este “diferente”, este Outro, seriam atribuídos apenas os signos da oposição, da invasão ao nosso campo narcísico e da ameaça às certezas que queremos manter a nosso respeito. Razão pela qual, por ser ao mesmo tempo tão semelhante e também tão incomodamente diferente, este Outro que nos é próximo
“[…] vem sempre nos deslocar de nossa identidade (uma ilusão narcisista), pois traz inevitavelmente a questão: se eu sou este e ele se assemelha tanto a mim, mas não é Eu, quem é ele? Diante dele, quem sou Eu? Só depois de nos desestabilizar dessa maneira – e se agüentarmos o tranco – é que o “próximo” pode se revelar também uma fonte de aprendizado, ou de experiências compartilhadas, de novas identidades.” (KEHL, 2007: 20)
Assim, o oposto do reconhecimento da alteridade é o etnocentrismo, postura que envolve a “desumanização do Outro” (Freire Costa, 1994) e a desqualificação de seu ethos.
Como explica o Freire Costa (1994), a operacionalização de processos coletivos nos quais é feita a re/produção de estigmas sociais envolve a transformação de determinados sujeitos, aos olhos dos demais, em “algo” que mereça ser objeto de pena, temor e/ou ira – o que serve como “justificativa” para uma gama de respostas carregadas de violência, desde a atribição de incapacidade até a prática de atos genocidas. Respostas que manifestam sentimentos de desprezo e, em variados graus, certa disponibilidade para a crueldade.
Segundo o psicanalista, o desprezo e a crueldade são manifestações humanas que, em qualquer sociedade, obedecem a um certo “ordenamento”. Até mesmo por uma questão de manutenção da espécie, para impedi-las de representar ameaça ao restante da coletividade, alguns sujeitos, aqueles que não se enquadram exatamente no ideal de “sujeito moral”, vistos como destoantes do grupo, são simbolicamente destituídos de sua humanidade, o que não se dá sem a atuação, em varios níveis, da comunicação social.
Assim, em ocasião anterior ao reconhecimento do Outro, “todo diferente, todo estranho, é visto como “não- sujeito” ou “semi- sujeito” (1994: 80). Situação que, se não superada, mantém
“[…] uma espécie de hierarquia onde apenas os sujeitos morais típicos, considerados como ideais devem ser respeitados no seu direito à vida, no direito de serem protegidos de sofrimentos gratuitos, de serem protegidos de ataques à sua integridade física ou corpórea, e devem ser protegidos de humilhação por dor moral, degradação, ou aviltamento de sua própria imagem.” (FREIRE COSTA, 1994: 80)
Isto posto, a estigmatização de uma categoria social vulnerável, como adolescentes envolvidos em conflitos com a lei, é reforçada sempre que os fatos são recortados de seu contexto original e reproduzidos de uma maneira que os tornem mais interessantes aos olhos e ouvidos de determinados interlocutores.
O “recorte”, entendido como o processo de separar um determinado fato de um contexto mais amplo e complexo, para, depois, apresentá-lo ao público de forma simplificada, reduzindo-se aqueles aspectos tomados por “secundários” e pouco interessantes, é uma operação direta sobre a realidade. Operação esta, que se torna muito problemática quando a construção dela resultante não é apresentada publicamente como uma versão ou interpretação, mas sim como sendo “a” verdade dos fatos e dos sujeitos a eles relacionados.
5- Considerações Finais
Em nossa pesquisa sobre o imaginário social acerca da delinquência juvenil na cidade de Uberaba, MG, constatamos o anunciado aumento da participação de adolescentes em práticas conflitivas com a lei no período entre 01/2001 e 01/2004, contudo, verificamos também que foram mais noticiadas as participações que envolviam violência e ameaça – ainda que acontecidas em número expressivamente menor do que outras, como o furto.
A consulta a dados provenientes do Núcleo de Estudos em Segurança Pública da Fundação João Pinheiro, revelou ainda que, no mesmo período, Uberaba constava entre os municípios mineiros cuja taxa média de criminalidade violenta estava ascendia, demonstrando que a questão não estava restrita ao segmento adolescente, sendo antes, nele refletida.
A associação recorrente do aumento da criminalidade – chamado de forma genérica de violência urbana – com a atuação de adolescentes infratores, remete à tese de Baratta (1994), quando o autor ressalta que, nas sociedades contemporâneas, vimos lidando com os comportamentos transgressores de forma reducionista, fazendo uso de um tipo de “análise”, presunçosamente psicossocial, cujo “fundamento” real se esgota na constatação do pertencimento dos sujeitos “analisados” a uma determinada identidade coletiva, a um certo território geopolítico ou mesmo a uma classe social. Assim, a questão da visão negativa de determinados sujeitos coletivos no imaginário social não pode ser dissociada da questão da reprodução da política e da violência como espetáculos, sendo que “a política como espetáculo dramatiza a criminalidade e excita a demanda por ‘endurecimento penal’” (BARATTA, 1994:17).
O autor entende que a generalização do medo, independente das probabilidades de ser vitimizado e das experiências pessoais, seja um fenômeno “beneficiado pelos fluxos da opinião pública, condicionados pela dramatização do problema da criminalidade e pela função simbólica do Direito penal” (1994:16). Razão pela qual, a formação deste imaginário, um tanto persecutório, provoca a ampliação de espaços para a transmissão de mensagens radicais e discriminatórias sobre a (in)segurança pública.
Concluímos, assim, que o estado de alerta em relação a determinados sujeitos coletivos advém de uma conjunção de fatores, como a dramatização da vida real e a transformação da violência e da criminalidade em entretenimento. Ponderamos que,
“mesmo a violência estando presente em toda a sociedade e manifestando-se de diversas formas, o processo de espetacularização ignora muitas delas. Do contrário, se reconhecidas como violentas também as práticas que adotam os “sujeitos morais típicos” (Costa, 1994) em nome de seu messiânico projeto de “combate ao mal”, uma vez (re)conhecido o potencial nocivo uns dos outros, não tardaria para que toda a sociedade se visse mergulhada em uma hobbesiana e inadministrável “guerra de todos contra todos”. (MÁRQUES, 1997: 192)
Em uma sociedade juvenilizadora, não temos dúvidas de que a criminalidade tenderá a tornar-se uma manifestação cada vez mais precoce. Mas não só ela. Também tenderão à precocidade as manifestações de habilidade artística e desportiva, de empreendedorismo, de capacidade cognitiva, de exercício da cidadania. A depender, fundamentalmente, do que aquela sociedade fez da(s) sua(s) juventude(s).
Informações Sobre os Autores
Fernanda Telles Márques
Cientista Social, com Mestrado (1997) e Doutorado (2002) pela FCL-UNESP, atualmente exerce a docência no Mestrado em Educação e nos cursos de Medicina, Psicologia e Comunicação Social da Universidade de Uberaba, MG.
Cristina de Oliveira Aveiro
Bacharel em Direito, foi bolsista do PIBIC – Programa de Iniciação Científica da Universidade de Uberaba, MG, no ano de 2007.
